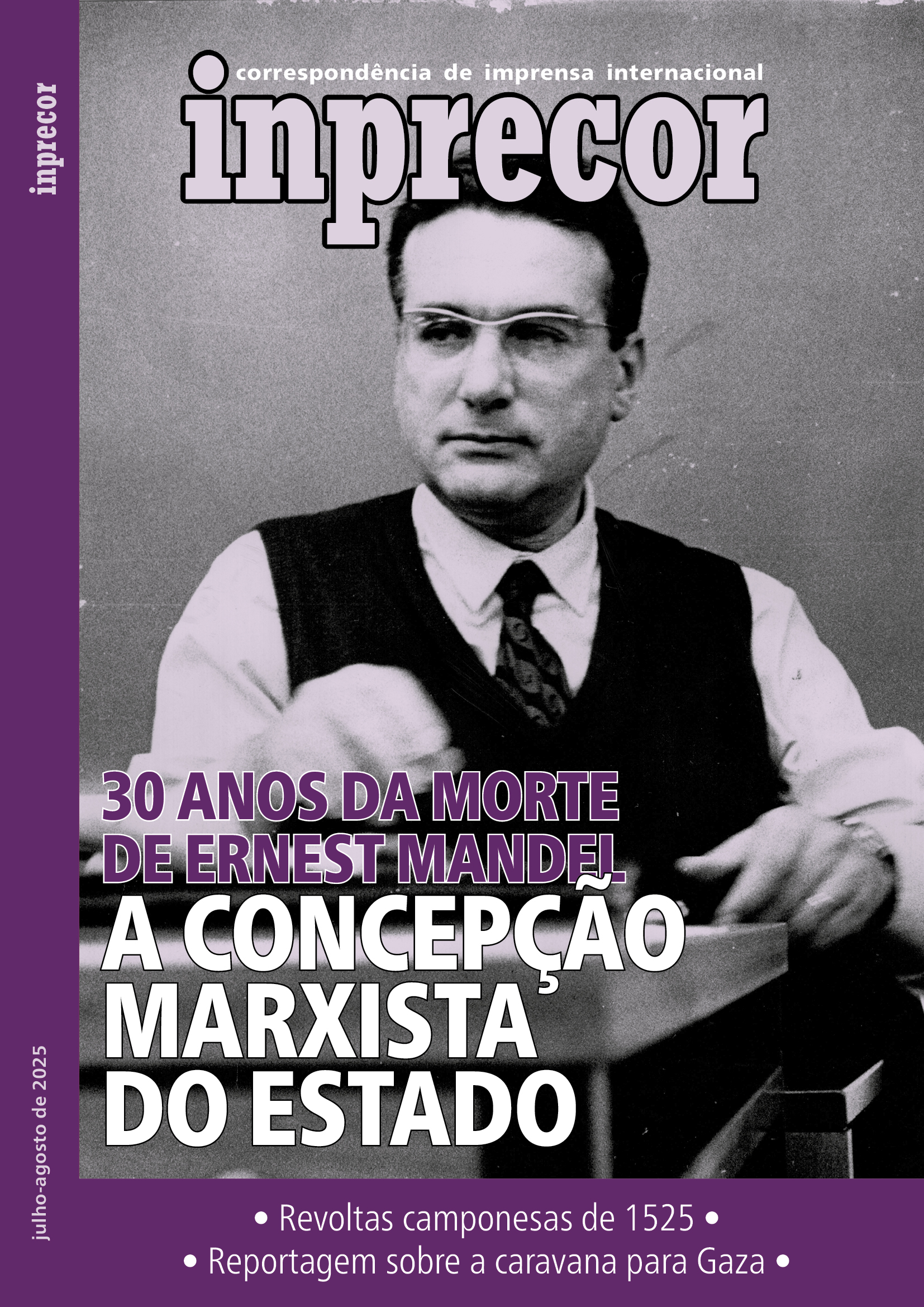A pane de energia elétrica ocorrida no último dia 28 de abril causou transtornos durante algumas horas na Península Ibérica e no sul da França. Todos e todas que vivem na região foram afetados e afetadas de uma forma ou de outra. O fato foi alvo de muitas discussões que, para não ficarem no nível da anedota, tendo em conta os riscos sistêmicos de que tal situação se repita, exigem uma análise e uma reflexão aprofundadas. É preciso tirar lições para o futuro.
Nesse sentido, pode-se dizer que o sistema energético se encontra em uma encruzilhada histórica. A urgência climática, a fragilidade geopolítica e a rarefação de recursos nos obrigam a repensar a maneira como produzimos, distribuímos e consumimos energia. Nesse contexto, o aumento da capacidade energética baseada em energias renováveis surge como um desafio crucial.
Mas nem todo desenvolvimento é bom de se ter: ele reproduz muitas das lógicas do sistema fóssil que deveria substituir, pois o atual modelo de transição energética é conduzido por grandes empresas privadas, cujo objetivo é a rentabilidade. Um oligopólio privado penetrou e monopolizou todas as fontes e tecnologias, incluindo as energias renováveis, e é protegido pelo Estado e por um sistema de preços que lhe garante margens e um mercado, no setor mais lucrativo da economia espanhola. Diante dessa situação, é urgente defender uma transição ecossocialista justa, democrática e planejada, que coloque no centro a vida e o bem-estar coletivo.
Como funciona o sistema elétrico?
O sistema elétrico não é a principal forma pela qual a energia chega até nós e representa apenas 24% do total da energia utilizada, sendo o restante proveniente de fontes fósseis utilizadas para transporte ou aquecimento. A rede elétrica requer uma infraestrutura complexa que permite que a eletricidade produzida chegue aos pontos de consumo de forma instantânea, contínua e segura. Para compreender os desafios atuais e as decisões que sua transformação implica, é importante conhecer seus elementos-chave e suas interações.
O sistema elétrico compreende quatro grandes fases:
• Produção de eletricidade em usinas termelétricas, nucleares, hidrelétricas, solares, eólicas etc.).
• Transporte de eletricidade de alta tensão por longas distâncias através de uma rede de linhas de transporte.
• Distribuição de eletricidade de média e baixa tensão para residências, empresas e serviços.
• Consumo: utilização final da energia elétrica por usuários domésticos, industriais ou públicos.
O sistema elétrico centralizado exige que a produção e o consumo estejam equilibrados em todos os momentos. Isso requer um controle técnico contínuo, geralmente automatizado, para ajustar a oferta à demanda real, a produção ao consumo, segundo a segundo. Para atender a essa exigência, é necessário não apenas monitoramento e coordenação adequados, mas também combinar tecnologias com características muito diferentes, algumas mais difíceis de gerenciar do que outras — como é o caso das energias renováveis — na produção que contribui para o sistema elétrico.
As características das tecnologias de produção de eletricidade
Em resumo, as principais tecnologias atuais apresentam as seguintes características.
Centrais térmicas fósseis (gás, carvão, óleo)
Contribuem para a gestão do atual sistema elétrico centralizado, tendo a vantagem de poderem ser ligadas ou desligadas em função da demanda. Têm também uma elevada potência instalada e inércia, o que garante a estabilidade do sistema.
No entanto, são muito poluentes, emitem grandes quantidades de CO₂ e outros gases, sem esquecer a dependência externa que implica o recurso à importação destas fontes, a incerteza causada pelas perturbações geopolíticas e outros riscos ambientais e sanitários graves.
Centrais nucleares
Esta tecnologia é frequentemente creditada pela sua produção contínua e pela sua contribuição para a estabilidade da rede, devido à sua inércia. Mas é importante saber que esta continuidade não é uma vantagem, mas sim um elemento de rigidez, pois, embora as centrais possam ser desligadas, o seu reinício é muito lento e muito caro. A necessidade de produzir continuamente é exatamente o oposto do que o sistema de rede centralizado precisa. Os lobbies nucleares tentam promover sua tecnologia com o mantra da estabilidade, mas ela implica adaptar o sistema e as demais fontes de energia.
É também verdade que não emitem diretamente CO₂, mas vários fatores tornam totalmente inviável a sua utilização no âmbito da transição ecológica a médio e longo prazo: mesmo que os seus custos de exploração sejam baixos, os seus custos de investimento são elevados, o que os torna pouco rentáveis; a sua vida útil é limitada a algumas décadas, o que implica custos de desmantelamento e reinvestimento muito elevados; a gestão dos resíduos radioativos se estende à escala geológica e não existem contentores capazes de resistir à corrosão durante mais de um século; e, apesar das melhorias em matéria de segurança, os riscos a longo prazo tornam o improvável um perigo certo, como poderia afirmar Ulrich Beck1, sem esquecer o consumo de água necessário para o arrefecimento das centrais.
Energias renováveis
As energias renováveis representam a alternativa, mas não estão isentas de contradições. Em primeiro lugar, o sistema de rede elétrica centralizada é mal adaptado às energias renováveis.
A energia eólica é limpa, assim como a energia solar fotovoltaica, que além disso é modular e fácil de instalar. Ambas têm baixos custos de exploração. Mas são intermitentes, mais difíceis de gerir, requerem grandes superfícies disponíveis e o modelo tecnológico atual não gera inércia. Para aumentar sua compatibilidade em um ambiente estável, com o sistema atual, elas precisam de soluções de armazenamento ou de emergência, que hoje são insuficientes. Em países onde a água é abundante, como os países escandinavos, as usinas hidrelétricas funcionam bem, mas em países afetados por secas recorrentes, como o nosso2, as baterias são uma alternativa. Estas também são caras, tanto em termos económicos como em termos de materiais críticos (lítio, cobalto, níquel), com uma consequente pegada ecológica, enquanto o hidrogénio é pouco eficiente como acumulador e as suas utilizações serão limitadas.
Quanto mais energias renováveis intermitentes forem integradas, mais complexa se tornará a rede elétrica do ponto de vista técnico. Por isso, paralelamente à produção renovável, é indispensável promover um modelo descentralizado e distribuído, de modo a privilegiar o autoconsumo em comunidades energéticas, o que reduz a pressão sobre a rede central. É também necessário aplicar políticas de gestão da demanda que incentivem o consumo nas horas de maior produção. A este respeito, algumas medidas já podem ser tomadas. Na medida em que o sistema elétrico requer uma sincronização entre a produção e o consumo, que sentido faz que, na primavera e no verão, a faixa de consumo mais cara corresponda às horas mais ensolaradas? Pelo contrário, a eletricidade deveria ser mais barata durante as horas mais ensolaradas do dia nesta época do ano.
O que não funciona no desenvolvimento atual das energias renováveis
Longe de constituir uma verdadeira alternativa ao sistema fóssil, a implantação atual das energias renováveis é guiada pela lógica do mercado e não pelas necessidades sociais ou ecológicas. As empresas privadas investem de forma desordenada, privilegiando as zonas onde a ligação à rede elétrica é mais acessível e rentável e aquelas onde o consumo é maior, sem levar em conta as consequências para os territórios e os conflitos com as necessidades das comunidades rurais, que muitas vezes estão localizadas perto desses mesmos pontos de ligação.
Essa lógica extrativista das energias renováveis não reduz realmente o recurso a fontes não renováveis: em muitos casos, simplesmente se soma a elas, enquanto os sistemas fósseis e nucleares se mantêm enquanto continuam a gerar lucros. Além disso, a centralização do sistema – que reproduz o modelo fóssil – através de mega instalações solares e eólicas e de uma rede elétrica centralizada que necessita uma parte importante de energias poluentes para se manter estável, entra frequentemente em conflito com as populações rurais, os usos agrícolas tradicionais e a biodiversidade.
Em vez de avançar para uma redução do consumo e uma reorganização do modelo energético, reproduz-se um modelo produtivista que colide frontalmente com os limites ecológicos do planeta.
Rumo a um modelo energético justo e sustentável
A energia é um bem comum essencial. Por isso, deve ser gerida através de uma planificação pública, com participação democrática comunitária, e não como um setor lucrativo. É indispensável que os poderes públicos retomem a iniciativa na conceção do sistema energético, orientando-se para um modelo que combine:
• As energias renováveis como fonte principal, reduzindo e substituindo progressivamente as energias fósseis e nucleares.
• Uma distribuição descentralizada e comunitária, com sistemas de autoconsumo, redes locais e armazenamento de energia adaptado a cada território.
• Uma colaboração com as comunidades rurais e urbanas, integrando critérios sociais, ambientais e paisagísticos na escolha dos locais e dos modelos de gestão.
• Participação democrática nas decisões energéticas, reconhecendo a energia como um direito e não como uma mercadoria.
Este modelo requer um investimento público sustentado, não só em infraestruturas de produção, mas também em redes de distribuição inteligentes, armazenamento, eficiência energética e educação técnica e cidadã. O investimento público não pode limitar-se ao financiamento de infraestruturas das quais as empresas privadas beneficiam; deve beneficiar toda a sociedade. Por exemplo, o aluguel em massa de baterias e sistemas de armazenamento, embora possa contribuir para estabilizar a rede elétrica, também reduz os custos de investimento que as empresas privadas teriam de assumir. Se o setor público aluga baterias em grande escala, então seria lógico que todo o sistema fosse público, através da socialização deste setor estratégico. O custo, embora elevado, será de todo modo inferior aos 5% das despesas previstas para a Defesa até 2030. Seria sem dúvida uma opção muito melhor.
Implementar a socialização não é, porém, suficiente. Deve ser acompanhada por um planejamento da redistribuição das infraestruturas e de modificações tecnológicas. Baseado em energias renováveis – e, marginalmente, no gás para situações de emergência –, este modelo deve substituir as outras tecnologias e fontes de energia, implementar um modelo descentralizado e adaptar as fontes às especificidades dos territórios, através de decisões democráticas de cada comunidade sobre a localização das instalações. Da mesma forma, parece indispensável que a reorganização e a redistribuição das infraestruturas sejam realizadas no âmbito de uma transição apoiada pela pesquisa e pela inovação. Assim, ela poderá basear-se cada vez mais em tecnologias de baixo custo – também chamadas de “modestas” ou “leves” — independentes da indústria fóssil e capazes de minimizar o uso de materiais e energia, e inseridas em uma “economia em espiral”, na qual os materiais são reintegrados, tanto quanto possível, no ciclo da natureza — tendo em mente que a termodinâmica é teimosa nesse aspecto, como frequentemente salienta o professor José Manuel Naredo3. Tudo ao mesmo tempo em que fornece um serviço suficiente para toda a população.
Soberania energética e território
Em um mundo cada vez mais marcado por tensões em torno do controle dos recursos, a autossuficiência energética torna-se um elemento-chave da soberania. A Península Ibérica, e em particular seu sul, tem um potencial enorme, suficientemente grande para satisfazer grande parte da sua procura com energias renováveis. Mas isso exige uma mudança de modelo: não basta mudar as fontes energéticas, é também necessário transformar as relações de poder que estruturam o sistema.
Uma verdadeira soberania energética implica decidir coletivamente que energia deve ser produzida, como, onde, para quem e com que impactos. Isso pressupõe reconhecer que a energia não é neutra, que seu acesso desigual condiciona todos os aspectos da vida e que qualquer transformação deve ser acompanhada de justiça territorial e social, cujo primeiro passo é a erradicação da precariedade energética, garantindo o abastecimento básico a toda a população e levando em conta os limites da nossa biosfera.
Essa justiça implica também, como já indicamos, acordar a localização das instalações segundo critérios que não comprometam as possibilidades e as necessidades da produção agrícola, nem as necessidades das comunidades rurais, e que incluam a adaptação técnica das infraestruturas necessárias. Por exemplo, desenvolver turbinas eólicas sem pás, que transferem a energia através de vibrações induzidas por vórtices – já que os pássaros seguem o mesmo caminho do vento explorado por esses dispositivos –, ou instalar parques solares em estacionamentos, nos telhados de edifícios e indústrias e em zonas rurais, de forma a causar um impacto menor sobre as populações, a agricultura e a biodiversidade.
Temos também de ter em mente que devemos multiplicar estas infraestruturas baseadas em energias renováveis – não para as adicionar às tecnologias fósseis e nucleares, mas para substituir a grande maioria delas.
Os limites biofísicos: a face oculta da transição
Não se pode falar de transição energética sem reconhecer os limites materiais do planeta. A eletrificação da economia, necessária em muitos aspectos, não deve ser concebida no âmbito de um crescimento ilimitado da produção de energia renovável. Parece necessário aumentar radicalmente a capacidade atual, desde que isso não seja feito de forma desordenada e de acordo com critérios de mercado, mas levando em conta as necessidades e as condições sociais, ambientais e técnicas. Mas temos de estar conscientes de que isso implica dispor de materiais em quantidades enormes, como o cobre, o lítio e as terras raras, cuja disponibilidade é limitada e cujo ciclo de vida coloca enormes desafios ecológicos. Isso também implicará na continuação da pesquisa científica e no desenvolvimento de infraestruturas que possam utilizar outros materiais abundantes, como o alumínio, que, embora seja um condutor menos eficiente que o cobre, poderia ser adequado para determinadas atividades.
As infraestruturas renováveis atuais dependem indiretamente dos combustíveis fósseis para sua extração, fabricação, transporte ou manutenção. Sua vida útil é limitada — geralmente não mais do que 30 anos —, o que implica sua reconstrução, e elas geram dejetos. Portanto, não basta mudar as fontes de energia, é indispensável transformar o modelo econômico para uma economia sóbria e justa, fazendo escolhas em relação às necessidades energéticas a serem satisfeitas, evitando o consumo excessivo e supérfluo, em vez de tentar manter o mesmo nível de consumo.
Isso implica:
• Promover modos de vida e de consumo sóbrios, eficientes e partilhados, sem renunciar à satisfação das necessidades relacionadas com o bem-estar e um modo de vida digno.
• Apostar na mobilidade pública, coletiva e elétrica, dando prioridade ao transporte ferroviário e de bonde, mas também de ônibus ou metrô, e reservar o uso de carros elétricos em áreas urbanas para serviços essenciais (táxi, ambulância, bombeiros). Trata-se também de desenvolver sistemas municipais de transporte compartilhado que permitam atender áreas rurais não servidas.
• Dar prioridade ao uso da energia para cobrir as necessidades básicas e as atividades de grande utilidade social.
Que política econômica para que modelo energético?
Uma transição energética ecológica exige uma política econômica a serviço do bem comum. Não se trata apenas de mudar a matriz energética, mas de construir outro modelo de desenvolvimento. Um modelo que não busque o crescimento ilimitado, mas o equilíbrio com os limites naturais e a justiça social.
Isso requer:
• Um planejamento público de longo prazo, com critérios técnicos, sociais e ecológicos;
• Negociação e participação democrática das comunidades nas decisões estratégicas;
• Reconversão do emprego e da formação profissional para setores ecológicos;
• Descentralização dos sistemas de produção e distribuição, mantendo uma articulação, ou mesmo uma sinergia, entre os diferentes sistemas.
As elites econômicas e políticas mundiais parecem ter escolhido um caminho oposto: uma transição autoritária e antisocial, baseada no controle dos recursos estratégicos, no extrativismo, no recurso crescente à força, nas desigualdades e na exclusão. Trata-se de um modelo em que os combustíveis fósseis, a energia nuclear e as energias renováveis extremamente centralizadas coexistem num sistema cada vez mais instável, extrativista e militarizado. Um modelo que se concentra para enfrentar os protestos, restringe os direitos e consolida os privilégios de uma minoria.
Este caminho não é apenas socialmente injusto, é também anti-ecológico e politicamente insustentável. Contraria os interesses da maioria, em particular das classes populares e dos povos do Sul, e bloqueia qualquer possibilidade de transição real para um futuro viável.
O modelo energético não é uma simples questão técnica: é uma questão profundamente política. Ele determina que vida é possível e para quem. É por isso que a luta por um novo sistema energético é também uma luta pela democracia, pela justiça e pela dignidade. Da mesma forma, o sistema elétrico não é apenas uma rede técnica: é também um campo de decisões políticas, sociais e ecológicas. Cada tecnologia tem suas condições, vantagens e limites, e nenhuma, nem mesmo as energias renováveis, está isenta de impactos. É por isso que uma transição energética justa requer não apenas mais energias renováveis, mas também um planejamento democrático consciente, a partir do setor público e das comunidades, que priorize os usos socialmente necessários, minimize os impactos e distribua a energia de forma mais democrática.
Evitar cortes de energia no futuro não depende apenas da instalação de mais painéis solares ou turbinas eólicas, mas de uma profunda reformulação do nosso modo de vida, produção e organização. Precisamos de um modelo público, democrático, à altura das necessidades, ecológico e justo. E precisamos desenvolvê-lo agora, pois o modelo atual é cada vez mais incerto e perigoso.
6 de junho de 2025
- 1
Ulrich Beck (1944-2015) foi um sociólogo alemão, professor e pesquisador da London School of Economics, autor de A Sociedade do Risco (1986) e de vários livros e reflexões sobre a gestão e mitigação política e econômica dos riscos nas sociedades ocidentais contemporâneas.
- 2
Nota do tradutor: o texto remete ao Estado espanhol.
- 3
José Manuel Naredo Pérez (1942-...) é um economista e estatístico espanhol, pioneiro, pesquisador e divulgador da economia ecológica na Espanha, área na qual fez importantes contribuições como autor e editor.